Diversos ramos da ciência são constantemente representados em filmes de sucesso de bilheteria — e não necessariamente sucessos de crítica ou alvo da concordância dos cientistas representados nas telas de cinema. Você provavelmente já assistiu a filmes com físicos, químicos, biólogos, médicos e… Paleontólogos. Indiana Jones formou uma geração de pessoas que, de alguma forma, foram levadas a acreditar que a busca por fósseis era uma espécie de Olimpíada do Faustão [1] em pirâmides com criptografia avançada e sistemas de proteção absurdamente irreais.
Mas mais do que vender a ideia de que certas áreas da ciência são melhores do que outras, há uma consequência talvez não intencional dessa representação midiática que está diretamente relacionada com a criação de estereótipos científicos: a ideia de que o resultado de uma pesquisa científica é mágico. Pouco discutimos métodos, práticas, relações, frustrações e realizações de uma pesquisa; ao invés disso, lidamos apenas com os resultados, o que pode ser aplicado ou não e como isso pode resolver os nossos problemas com a vida e tudo o mais.
Daí, lidamos com um ciclo vicioso de ruptura difícil, mas possível. Afinal, entender o que é ciência não se resume a entender quais foram os conceitos relacionados a uma ou outra área do conhecimento. É preciso compreender que o conhecimento científico é resultado direto de relações sociais internas e externas ao ambiente científico e que essas relações se dão, em diversos momentos, a despeito do consenso entre os cientistas de uma área de pesquisa. E que essas relações passam por interesses econômicos, políticos e sociais que tem suas consequências para toda a sociedade, como argumentava Feyerabend [2].
Um desses casos entre relações e interesses do conhecimento científico movimenta a ciência latino-americana e a diplomacia brasileira é do fóssil brasileiro Ubirajara, que desde 2020, mostra como a colonização da ciência infelizmente ainda persiste e precisa ser combatido com urgência.
É comum que cientistas troquem conhecimentos ou realizem pesquisas com pares internacionais. Em um mundo conectado como o nosso, é possível ter colaboração quase em tempo real em muitos projetos de pesquisa. Em outros casos, a colaboração acontece por fuga de cérebros: os baixos investimentos e pouco reconhecimento ou baixa oportunidade de pesquisa e de emprego em seus países de origem faz com que cientistas e pesquisadores se mudem e passem a realizar as suas pesquisas em outros países com melhores condições. Essa é uma prática tão recorrente que os artigos científicos produzidos em nosso subcontinente são publicados em inglês [3], como discutimos aqui.
Também é comum que cientistas estrangeiros visitem outros países para estudar o seu objeto de pesquisa, especialmente quando esses objetos de pesquisa só podem ser encontrados em ambientes específicos. Durante muitos anos, estrangeiros ocupavam toda sorte de locais onde achassem que poderiam investigar sobre alguma coisa. E sem remorso algum, levavam consigo muito material para as suas pesquisas: desde plantas nativas e animais silvestres até fósseis e outros objetos de valor. O Brasil vivenciou várias ondas nesse sentido — o que motivou a primeira expedição científica nacional ainda no século XIX cujo relato é descrito no saboroso livro “Catorze camelos para o Ceará” [4], cuja resenha está disponível aqui.
Acontece que em alguns casos, a expedições científicas passam a praticar a colonização: cientistas estrangeiros tomam posse de objetos de pesquisa, como plantas, fósseis e animais de outros países e tratam de fazer as suas pesquisas e ganhar relevância científica com isso. Relevância científica é revertida em mais verba de pesquisa, o que pode retroalimentar este ciclo antiético e criminoso de pesquisa.
Afinal, levar para a sua casa alguma coisa sem autorização é, no mínimo, eticamente controverso. Ou até criminoso, como muitos países que já legislaram sobre o assunto [5]. Apesar disso, a tentativa de contrabando de fósseis continua, como mostra essa reportagem do G1 de fevereiro de 2022.
Por isso, o caso com o fóssil Ubirajara chama tanto a atenção. Em dezembro de 2020, um grupo de cientistas nascidos na Alemanha, México e Reino Unido descreveu um fóssil de 110 milhões de anos de uma espécie de dinossauro (Ubirajara jubatus), [6] a primeira espécie encontrada no hemisfério sul a exibir o que provavelmente são as percussoras das penas modernas. Um grande achado para ciência, claro. Só que o Ubirajara, isto é, o seu fóssil, não era conhecido pela paleontologia brasileira. O fóssil do dinossauro havia sido retirado do país muitos anos antes, em uma operação envolvendo a assinatura de um funcionário de uma mineradora — e não de órgãos governamentais, já que os fósseis pertencem ao estado brasileiro.
A partir da publicação do artigo, uma onda tomou conta do Twitter e de outras redes sociais. A hashtag #UbirajaraBelongsToBR chegou aos trend topics da plataforma em muitas ocasiões e alavancou uma campanha contra o colonialismo paleontológico — e científico como um todo. Os protestos da comunidade cientifica brasileira e latino-americana geraram resultados dentro e fora da ciência: o artigo sobre o fóssil brasileiro foi retratado pelo editor do periódico onde foi publicado, e agora ao acessá-lo, é exibida a mensagem: “This article has been withdrawn at the request of the editor. The Publisher apologizes for any inconvenience this may cause”. Traduzindo: o artigo foi retirado a pedido do editor da publicação, o que dentro da comunidade científica, é tratado como uma falta grave e um desabono pesado contra a conduta dos autores cujo artigo sofreu este tipo de sanção. Desta forma, o relato com a descoberta não fica mais disponível para consulta, o que a longo prazo, gera efeitos em verbas para a pesquisa e na própria reputação dos cientistas que publicaram o estudo.

Além disso, o movimento de descolonização da ciência cresce cada vez mais, embasado, sobretudo, na importância de que cientistas nacionais tenham a oportunidade de estudar o que está no território de seu país. E mais: evitar que o desenvolvimento científico fique ainda mais desequilibrado, já que cientistas de países desenvolvidos já possuem, naturalmente, mais recursos para as suas pesquisas. Aliás, um relatório publicado em março de 2022 analisou pesquisas paleontológicas que descreviam fósseis brasileiros e mexicanos e concluiu que mais da metade dos artigos publicados não incluíam pesquisadores locais (como no caso do artigo sobre o Ubirajara, que não possuía nenhum pesquisador brasileiro entre os seus autores) e que quase todos os fósseis brasileiros analisados não estavam armazenados em território brasileiro [7].
Fora do ambiente científico, a disputa não parou por aí. Além da retratação, a comunidade científica brasileira deseja que o fóssil seja repatriado para o solo brasileiro. Atualmente, o fóssil está exposto no Museu Estadual de História Natural Karlsruhe, na Alemanha (cujas notas de avaliação no Facebook e no Google são baixíssimas, em virtude da campanha dos internautas que denunciam a apropriação indevida do fóssil pelo museu).
Mas nem tão distante dos dois ambientes — o científico e o social —, está o ambiente escolar. Há um espaço imenso para discutir a descolonização da ciência em sala de aula: seja discutindo diretamente o caso do Ubirajara e a perversidade da colonização científica, seja comentando sobre casos os casos da prática de colonização — que, ao contrário do que alguns autores estrangeiros alegam, está longe de serem casos pontuais e anedóticos [8] — que, infelizmente, atingem muitas áreas do conhecimento. Afinal, discutir os aspectos sobre a prática da ciência permite não apenas apresentar o seu funcionamento, mas também, a um dos grandes trunfos que o conhecimento científico possui: o poder de corrigir as suas práticas, mesmo quando os conceitos envolvidos não estão necessariamente errados. Não é só o método, não é só o resultado, mas sim, todo o conjunto que importa para validar um resultado científico. Saber disso é de suma importância para saber, realmente, o que é ciência.
. . . . .
[1] Da mesma forma que Indiana Jones, nas olimpíadas do Faustão era necessário ser habilidoso em escapar de pedras que rolavam, alavancas, buracos e toda sorte de obstáculos improváveis, como você pode assistir aqui: https://www.youtube.com/watch?v=jM2TAYjNfY8.
[2] Paul Feyerabend, um dos maiores filósofos da ciência, defendia a total inserção da sociedade na ciência. A marca de sua obra nesse sentido é o livro “A ciência em uma sociedade livre” (Editora Unesp, 2011, 288p.)
[3] Disponível em: https://ccult.org/o-mau-sinal-do-ingles-como-idioma-dominante-na-ciencia-latino-americana/
[4] Disponível em: https://ccult.org/catorze-camelos-para-o-ceara/
[5] A legislação brasileira protege fósseis desde 1942, como você pode conferir aqui: https://sbpbrasil.org/legislacao-brasileira/
[6] A maned theropod dinosaur from Gondwana with elaborate integumentary structures
[7] O relatório pode ser acessado, em inglês, aqui: https://doi.org/10.1098%2Frsos.210898
[8] Como apontam Mariana Lenharo e Meghie Rodrigues neste artigo para a Nature (em inglês): https://www.nature.com/articles/d41586-022-01093-4, esse argumento está longe de ser verdadeiro.
Imagem destaque por PPaleoartist
. . . . .
O ccult.org é um projeto de divulgação científica independente sobre temas de cultura científica e ensino de ciências da natureza criado e mantido por F. C. Gonçalves desde fevereiro de 2019. Conheça o projeto.
Você pode contribuir financeiramente com o ccult.org. Por apenas R$ 9,90 por mês, você ajuda o projeto a crescer cada vez mais, recebe brindes especiais e ainda concorre a prêmios exclusivos! Acesse: ccult.org/apoie e saiba mais.
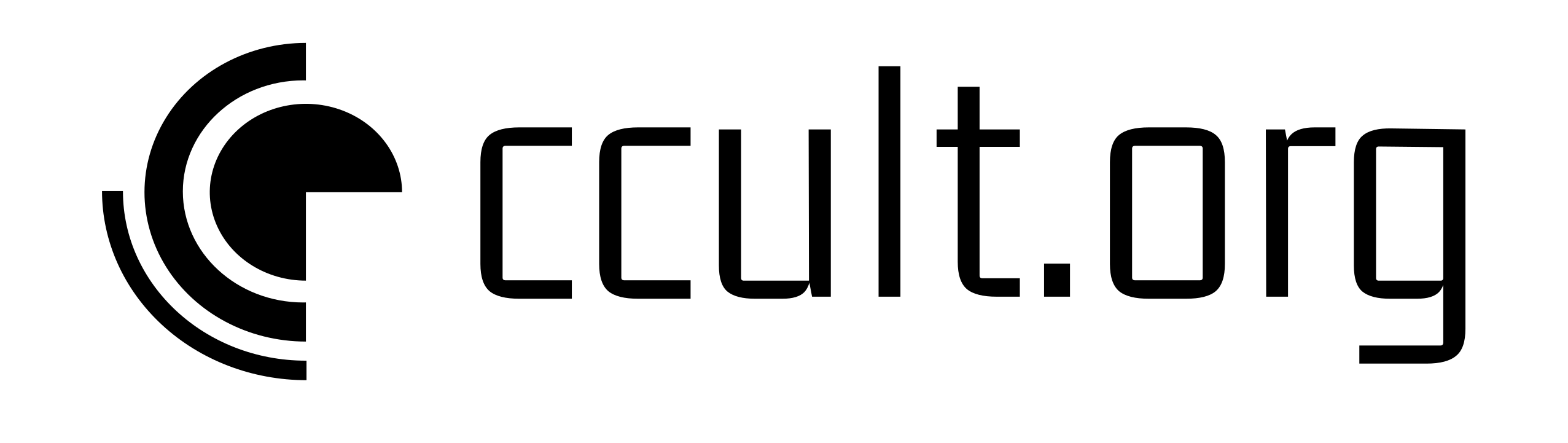



2 Comments